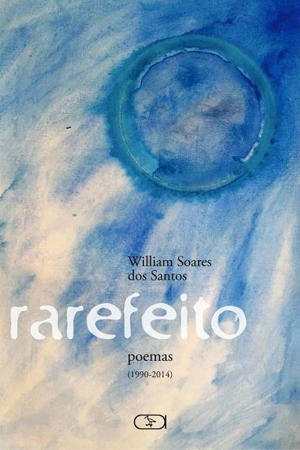A Musa como salvação no absurdo da vida no livro Rarefeito – William Soares dos Santos
Por Jorge Elias Neto
Sempre é oportuno relembrar que a leitura atenta de um livro começa pelo nome com o qual o autor convida o leitor à leitura – sobretudo quando se trata de um livro de poemas. O poeta costuma buscar a densidade em cada palavra, um visgo que grude na capa toda uma carga de significantes e emoções transfigurados em linguagem.
No caso do livro Rarefeito, do poeta e professor William Soares dos Santos, recentemente publicado pela Ibis Libris, esta observação inicial se faz relevante. Afinal, trata-se de um autor oriundo da academia e estudioso de literatura. Esse aspecto também não passou despercebido ao poeta e ensaísta Antônio Carlos Secchin que, no início do seu prefácio ao livro, nos diz que, “apesar da insinuação do título, rarefeito, o autor, parece operar no domínio de um real bastante denso, pleno de amores e de humores”.
O título do livro, em consonância com o que nos diz o linguista José Augusto Carvalho, sugere, em um primeiro momento, pelo menos duas leituras: o adjetivo rarefeito (que significa “menos denso”) e a palavra-cabide ou palavra-portmanteau (também chamada “palavra entrecruzada”) rarefeito, formada pelo amálgama do adjetivo raro com o substantivo efeito (raro efeito).
No primeiro caso, o título sugere simplicidade; no segundo, sugere algo novo, raro, diferente. Em ambos os casos, o título sugere ou antecipa o efeito que os poemas provocarão no leitor. Vasculhemos então o que inspira, espira e aspira o autor de Rarefeito.
E o sentido de Rarefeito já ensaia seu contorno nos versos do poeta Inglês William Wordsworth, escolhidos para compor a epígrafe da obra. Neles, o grande poeta romântico homônimo de nosso autor, instiga seu eu lírico a erguer-se: “Up!up! and drink the spirit breathed/From dead men to their kind.”
Somente a literatura e o acaso possibilitaram que esses versos escritos no século XVIII chegassem aos ouvidos do nosso poeta, e soassem assim tão pessoais, provocando-o ao inquirir: “Why, William, on that old grey stone,/ Thus for the length of half a day,/ Why, William, sit you thus alone,/ And dream your time away? ” Finalizando com um desafio:”Where are your books? – that light bequeathed/ To Beings else forlorn and blind!”
E já em Rarefeito, primeiro poema do livro, William Soares nos diz, a seu modo, do imenso desconhecido contido entre o céu e as profundezas terrestres; inicia assim um diálogo presente ao longo da obra – nesta feita com o homônimo William Shakespeare – com os cânones da poesia mundial.
Vejamos:
Quero ser tomado,
elevado à montanha mais
alta e submerso ao mar mais profundo.
o que sei de mim é
um constante não saber.
Ao seu modo, lançando mão da metáfora, o poeta também ensaia a superação do absurdo.
Sabemos o sentido de urgência do homem contemporâneo, a necessidade de lançar-se no desafio dos limites, na busca de embriagar-se com endorfina.
Enquanto seus coetâneos, de forma cada vez mais radical e, por vezes, inconsequente, buscam desafiar seus limites se confrontando com ambientes inóspitos, com condições atmosféricas pouco afeitas ao conforto, seja nos picos montanhosos – que se caracterizam por um ar menos denso (rarefeito) e com menor concentração de oxigênio – seja nas profundezas dos Oceanos que oferecem o risco das grandes pressões, comprometendo a lucidez e a coordenação motora, o poeta também busca o desconforto que lhe proporcionará – pelo menos em tese – a experiência criadora.
Quero ser tomado de mim,
atravessado pela luz
mais pura que antes
nunca se afigura.
acordei num dia novo e
claro, no qual o ar não está
rarefeito
e nada cala
dentro de mim.
Quero ser tomado do mundo.
a minha passagem será
apenas vento, talvez sombra,
talvez tempo, mas nunca
desatino.
Brancura serena da primavera,
negrume pacificador da alta
madrugada.
Disse-nos Emil Cioran: “Escrever seria um ato insípido e supérfluo se pudéssemos chorar à vontade… Se cada vez que os desgostos nos assaltam tivéssemos a possibilidade de nos livrar deles pelo pranto, as doenças vagas e a poesia desapareceriam. Mas uma reticência inata, agravada pela educação, ou um funcionamento defeituoso das glândulas lacrimais, condena-nos ao martírio dos olhos secos.” Daí a admiração de Cioran pelos poetas, por sua capacidade de mostrarem-se isentos de pudor – e agora cito as palavras de Nietzsche – em relação às próprias experiências; esta capacidade única de explorar o que tantos tentam omitir e dissimular.
E o poeta dialoga com seu desassossego. Reconhece ser mais um pássaro, entre tantos, grudado nas partituras dos fios elétricos das grandes Metrópolis. Sabe seu espaço no sem sentido, e ensaia um arremedo de liberdade: Um pássaro não é o pássaro,/é um pássaro qualquer.//branco?/pode ser,/para combinar com o azul deste mar,/para ser livre como todos os ideais de vida.// livre como não sou,/livre como não sei o que é ser livre.// mas imagino,/tento,//um pássaro qualquer,/livre,/ser.
E “a dor ladra no tempo”, esse tempo só nosso, em que transgride¹ e nos diz o poeta: ainda que permanecesse/eu seria apenas a lembrança tangível/que insiste na permanência/da intangibilidade de ser. Quantos de nós não sentimos essa náusea sartreana diante da imanência…
E rodopia sem direção,/gira,gira o pião de Sísifo.
Diz-nos Camus que, diante do absurdo, uma das alternativas é o “salto” para a religião. No presente caso, vemos o eu lírico – nesta feita no poema “Crístico” — apresentar-se como aquele que segue os preceitos cristãos da austeridade e do amor. É o herói que suplanta qualquer complexo de heroísmo.
Mas, ao modo de Augusto dos Anjos, William Soares nos diz que nem o poeta profeta sem intenção,/à margem da lição, nem o alquimista que dialoga com os símbolos de Jung, nem mesmo o físico que vê o mundo calculado,/matematizado, equilibrado não sabem o que é o mundo. São como uma criança, com seus olhinhos arregalados, esbugalhados de/surpresa diante da flor que recolhem/todas as manhãs.
Será o tempo é uma brecha que esconde o vento que sopra no rosto imaturo do mundo; ou seria no rosto do homem?
O que resta ao poeta, qual o caminho possível diante da incerteza? A resposta vem de “um anjo azul” que propõe que o poeta toque sua lira. E é essa “lira moderna” que acalenta o poeta e o anjo. Ambos condenados – o imortal e o mortal – à “solidão eterna” dentro de um mundo-prisão circundado pela “grande muralha”.
E o poeta se rebela, e se lança ao mar, pois a leste está a mais bela baía do mundo:
No mar que me transporta,
Vejo que não são os meus olhos que veem,
Mas eu que vejo através dos meus olhos.
Eis aí o poeta ensaiando seu eterno retorno à Pasárgada…
Já na República de Platão, Sócrates alerta a Adimanto que as fábulas mentirosas compostas por Hesíodo e Homero seriam contadas aos homens. E entre elas encontrava-se a vingança de Cronos contra seu filho Urano. E, vencendo Cronos, o poeta insiste em despertar a cada dia:
o mundo pesa
sobre mim,
serpente incinerada do estar
que me apeçonha em cada
instante do viver,
ainda quando rasga,
sanguínea e fresca,
a madrugada.
E eis que surge a Musa…
Somente ela
me trará
o grande sono
na madrugada.
O sono borbotado
de azul,
tão diverso
do cativo desejo
em que me encontro e que me aprisiona
na imensidão do anoitecer.
Em seu livro L´amour fou, André Breton nos apresenta o conceito de “acaso racional”. Aquele encontro “inesperado” ― inconscientemente já “agendado” ― com a musa. O grande encontro entre o poeta e a poesia. E muitos dos poemas trazem um poeta e suas luxúrias.
Mas uma nova surpresa — talvez mais uma vez a náusea existencialista leva o poeta a observar:
e eu sou feito um ladrão roubado pelo roubo que leva,
neste anseio de mais abrir o sorriso da boca nascida.
O poeta retorna às areias da praia cantada e à sua calçada de ondas negras e alvas. E depara com os indivíduos que buscam, em rumos distintos, alinhavar suas vidas e por um instante se esquece que é pós-moderno.
Whitman afirma e o poeta inquire: o que fazer com essa inquietude constante e com o desejo de ser muitos? ― lidar com a contradição humana.
Mas restam-lhe a musa e o amor. E eis aí a densidade possível ao poeta – a pele e o gozo.
Entretanto tudo indica que o meu caminha mais longo será mesmo a solidão.
Mas talvez, como diz o protagonista do livro Náusea, de Sartre, “a margem da solidão”. Um ponto equidistante entre o isolamento e o acesso ao outro.
Mas como isso acontece? Talvez o poeta dissimule, pareça perdido, rendido aos atos costumeiros, diuturnamente… Mas, quando do primeiro estalo da palavra, talvez ele se sobressalte e se lance ao chão para salvar a flor… Resgatar a imagem primeira da musa:
Torna-me à mente
Do teu corpo
A imagem da primeira vez.
eu, inquieto mendicante,
de teu corpo desejante,
a febre tolhia-me o sono,
e entre a penumbra surgiu a tua imagem
a desnudar-se em plena alvura
enquanto tudo se apascentava no hemisfério.
Embora não me governasse,
Me detive em tuas costas,
Como se os astros, a aurora
E o silêncio compactuassem.
Trazia-me o ansiado deleite
Fazendo de meu corpo a chave mestra
Que abria portas à sinistra-destra.
Pensamentos revoavam,
Enquanto eu calava e me concedia,
Tímido e inexperiente,
Às voltas de teu corpo.
Fechei os olhos,
O que palpitava de novo em meu peito?
Menino de nove mais nove sóis,
Tudo se confundia com desejo.
Todas as palavras então ficaram,
Tentativas inexpressivas de retratar
A gravidade de teu corpo.
E eis novamente William Wordsworth a nos dizer que “a poesia é o transbordamento espontâneo de sentimentos intensos: tem a sua origem na emoção recordada num estado de tranquilidade”.
O que propõe de novo um poeta pós-moderno? Talvez o reencontro com a musa, não de uma forma piegas e descompromissada, mas sim através dos clássicos e dos grandes poetas (complementação de rarefeito).
Pois ele nos diz como no poema intitulado Ulisses:
depois de tudo
deixo o teu leito com tudo o mais de óbvio:
molhado de suor,
com a face relaxada,
e uma ferida
encravada no dorso.
deixo o teu leito
como quem
cumpriu uma promessa,
esperando o pão com manteiga
que chega com o cheiro do café
perpassado pela alvorada.
deixo o teu leito
com a incerteza
de um retorno tranquilo
à minha ítaca sonhada
– barco sem porto
faço de ti meu ancoradouro –
deixo o teu leito
com um adeus
desacenado
de quem procura te
encontrar,
– após batalhas
contra troianos, ciclopes e
sirenes encantadas –
Na próxima
dedirósea manhã.
Diz-nos Antônio Carlos Secchin no prefácio que “… é nessa tensão – de dizer-se pelo viés de transformar-se em algo sempre diverso – que reside a força maior de rarefeito”.
Não sou crítico, nem pertenço à Academia. Percorri o livro como leitor de poesia e poeta, e digo que não foi difícil. Vivo neste mesmo ambiente, muitas vezes inóspito; embriago-me na mesma altitude onde é raro o oxigênio e onde a tontura deixa obnubilada nossa memória; indago as mesmas coisas; percorro os mesmos beirais, vou de leste a oeste, consciente da imanência do corpo e, como no poema, “Vésper”,
eu,
vésper celeste,
despeço-me
de minha
imortalidade
para, enfim,
encontrar em
teu corpo
– em não mais que uma hora
eternamente breve –
a luminosidade
inebriante do pulsar
do perecível
agarrando-me à musa, nessa falsa transcendência do infinito instante.
Jorge Elias Neto (1964) é Capixaba, reside em Vitória – ES. Livros: Verdes Versos (Flor&cultura ed. – 2007), Rascunhos do absurdo (Flor&cultura ed. – 2010), Os ossos da baleia (Prêmio SECULT – ES – 2013), Glacial (Ed. Patuá – 2014) e Breve dicionário (poético) do boxe (Ed. Patuá – 2015). Colabora com poemas em vários blogs e na revista eletrônica Germina, Diversos Afins, Mallarmargens e no Portal Literário Cronópios. Membro da Academia Espírito-santense de Letras onde ocupa a cadeira de número 2.