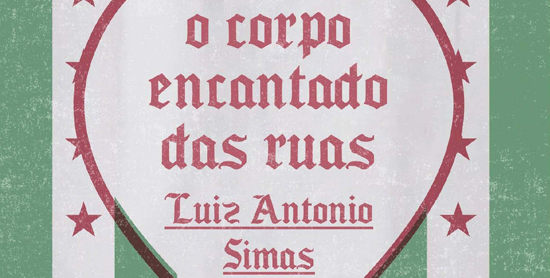Do corpo surrado ao corpo encantado: um drible no precário
Por Vinicius Gaudêncio de Oliveira
Talvez se vivencie no Brasil um dos períodos mais difíceis e contraditórios da história do país. Difícil por conta dos ataques sistemáticos à cultura, à educação, às religiões de matrizes africanas, sem falar na precarização da vida, acentuada pela expropriação do trabalhador, esta materializada na ideia de que se virar para ganhar a vida é empreendedorismo; contraditória porque os ataques vêm de governos instituídos democraticamente. Tudo isso toma proporções maiores na cidade do Rio de Janeiro quando o chefe do executivo estadual diz que vai passar de helicóptero por cima de uma favela atirando em quem portar fuzil, desconsiderando que uma boa parcela da massa de trabalhadores lá reside; ou as absurdas afirmações do chefe do executivo municipal quando diz que investirá em creches ao invés de investir no carnaval, como se uma coisa anulasse a outra.
Os problemas de ordem estrutural da cidade do Rio de Janeiro, como a falta de vagas em creche na rede municipal, na qualidade da água fornecida pela CEDAE, na mobilidade urbana, na qual os moradores da Zona Oeste da Cidade são os mais prejudicados, tendo que levar três horas para chegar ao centro da cidade, ou ir espremido no BRT (ou nem mesmo conseguir entrar) para trabalhar na Barra da Tijuca, passando pelos ataques a terreiros cada vez mais frequentes e pela “milicianização” da vida, desenha as linhas de uma Cidade doente e mítica. Diante deste cenário caótico, como pensar a Cidade sem romantizar o precário? O corpo encantado das ruas, de Luiz Antônio Simas, faz isso ao narrar a história de gente miúda que faz “da chibata de surrar o lombo a baqueta de bater no coro”.
Com o título inspirado no livro do João do Rio, A alma encantadora das ruas, que discute as contradições da Cidade com olhar sobre os tipos humanos e sobre a desigualdade social no início do século XX, o autor de O corpo encantado da rua flaina pelas ruas do Rio de Janeiro observando aquilo que contrasta com o modelo de Cidade que se quer europeia. Enquanto João do Rio fala sobre pequenas profissões, músicos ambulantes, mulheres mendigas e pessoas encarceradas, Simas narra história de “capoeiristas, malandros, sambistas, chorões, vendedoras de comida de rua, mãe de santo, coveiros, empregadas domésticas, caçadores de rato” e, não se limitando apenas a isso, conta como essa gente miúda inventa a vida na fresta “dando um nó no rabo da cascavel” e como ela produz cultura “onde só deveria existir o esforço braçal e a morte silenciosa”.
Com um baralhamento de linguagem, ora historiográfica, ora literária (ou encantada?), o autor de Pedrinhas Miudinhas fala de fé, de encruzilhadas e intuições que perfazem caminhos que nos transportam de uma situação aparentemente precária e de desencanto para caminhos de riquezas de saberes e modos de vida geralmente entendidos por alguns como desimportantes. Através de seus 42 ensaios, todos começando por “As ruas” e terminando com “rua”, o craque Simas vai inserindo na gira todo tipo de gente massacrada pelo projeto colonial, pensando a Cidade a partir do mito de origem da Umbanda, que consiste em um culto no qual pretos e índios poderão dar sua mensagem, criando, assim, uma “história a contrapelo”, na qual gente miúda vai contrapor o projeto de identidade nacional de cunho eurocêntrico.
Grosso modo, Simas discute de que forma se dá o movimento do Corpo nos espaços, que são as ruas. Corpo aqui entendido como os elementos menores da sociedade carioca, que não fazem parte da cultura oficial. As ruas são entidades representativas, são lugares nos quais acontecem manifestações diversas. O autor, no ensaio que fala da “Arenização da cidade”, cita a morte simbólica do Maracanã, que teve extintas a geral e a arquibancada, acabando com “espaços coletivos de movimentação imponderáveis, soluções criativas do ato de torcer, lugares de abraços suados e eventuais porradas”. Porém, cita também uma disputa que mostra que o debate continua vivo ao observar faixas reivindicando justiça: “As faixas para Marielle mostram que o jogo não acabou. Tem gente disposta a continuar disputando as arquibancadas, e consequentemente, a cidade”.
A cidade em disputa, tensionada, que “ama e odeia carnaval”, está o tempo todo nos dando amostra desse embate. Assim como o Maracanã, o Sambódromo, local no qual acontecem os desfiles do grupo de acesso e do grupo especial das escolas de samba, sofre com a “arenização”, tendo sido invadido pela “cultura do evento”, onde se formam camarotes com preços altíssimos que abrigam gente que não está nem aí para o “evento da cultura”. Mas as escolas de samba sabem driblar o oportunismo e preservar suas bases comunitárias. Assim como fazia em épocas de letras de sambas-enredo que falavam da história oficial, mas a batida da bateria era para Oxossi, no carnaval de 2020, o desfile das campeãs teve enredos sobre as Lavadeiras da Bahia, sobre Joãozinho da Goméia, sobre Exus e o Povo da Rua, sobre Elza Soares, sobre Benjamin de Oliveira e sobre um Jesus pobre e negro, todos eles dialogando com a cultura de matriz africana no meio de um lugar “arenizado”, porém “terreirizado”.
Nessa esteira do carnaval de 2020, no exato momento em que a Escola de Samba da Mocidade Independente de Padre Miguel, situada na Zona Oeste do Rio de Janeiro, passava na avenida, caía uma chuva torrencial no bairro de Padre Miguel, e em grande parte da Zona Oeste, que fez estragos no bairro. Qual a relação entre os dois fatos? Simas diria a máxima de Beto sem Braço: “o que espanta miséria é festa”. Isso é cultura de síncope. O povo precisa gingar para escapar do precário; precisa ter a inventividade do surdo de terceira para sair da previsibilidade. No último carro da escola, passa Elza Soares, homenageada com o enredo “Elza Deusa Soares”, com os punhos erguidos e com os dizeres na parte traseira do carro alegórico: “Nós não vamos sucumbir”. Ao ver a escola passar e o bairro alagar, um delírio duplo tomou conta de quem vos escreve: o do encantamento da Elza Deusa Soares na avenida e do desencanto de quem precisou atravessar a outra avenida (a Brasil) para chegar até a Zona Oeste. Num Rio cheio de contradições, a Escola de Padre Miguel deu o recado: não vamos sucumbir, ainda que tenhamos um ano cheio de quartas-feiras de cinzas, e com ela a dureza da travessia de caminhos submersos pelo descaso.
Embora apenas um ensaio cite um lugar inserido na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a Vila Kennedy, as formas de reivindicar saberes e visão de mundo são genéricas. A Zona Oeste do Rio de Janeiro se configura como um subúrbio com características diferentes como em outros. Nela, conjugam-se favela, milícia, rural com o pior do urbano, que são os engarrafamentos. Com uma linha de metrô no final da Barra da Tijuca e uma estação ferroviária em Santa Cruz, estes dois ramais polarizados são “ligados” por um BRT que contraditoriamente significa Transporte Rápido por Ônibus, do inglês Bus Rapid Transit. Os usuários do transporte público sentem diariamente a precariedade para trabalhar e, registre-se, para se divertir também, visto que aos finais de semana o número de veículos é drasticamente reduzido. Com isso, cria-se um lugar exclusivo para dormitório, no qual brincar é proibido.
Num lugar em que surgiu a “liga da justiça”, que teve apreendidos 117 fuzis em um condomínio de bacanas e com um número cada vez mais expressivo de evangélicos fundamentalistas, surge na “fenda da pedra” o Instituto Onikoja, localizado em Sepetiba, cujo objetivo é preservar e difundir a cultura de Matriz Africana, solidificando os saberes da herança africana. No local, são ministradas aulas de capoeira, oficina de percussão e uma oficina de bonecas africanas Ahosis, “terreirizando” Sepetiba e mostrando que lá tem um exército de guerreiras dispostas a combater a intolerância religiosa. Surgem também rodas de samba nos bairros dominados pela milícia, como em Cosmos, com o samba da Casa Velha Verde, Samba da Aurora, Samba Fulô e Samba da Ingrid, estes em Campo Grande. Com isso, há um resgate da ancestralidade da região, pois “nos sambas vivem saberes que circulam; formas de apropriação do mundo; construção de identidade comunitárias dos que tiveram seus laços associativos quebrados pela escravidão”.
Samba, futebol, macumba, festas, brincadeiras e Cidade são temas tratados pelo neto da Dona Deda, uma mãe de santo versada no xambá, jurema e encantaria. O babalaô não se acovarda diante de uma Cidade à beira do precipício. Suas reflexões encantadas sobre ela traz à tona não a resistência para dias difíceis, mas a reinvenção da vida precarizada, através de saberes, práticas e visão de mundo daqueles relegados ao nada, fruto da lógica de uma Cidade, que, como diz o autor, foi fundada para expulsar franceses, mas que um dia resolveu ser francesa para esconder suas africanidades.
Vinicius Gaudêncio de Oliveira é carioca formado em Letras/Literatura. Atua como crítico literário nas temáticas sobre produções literárias e culturais cariocas.