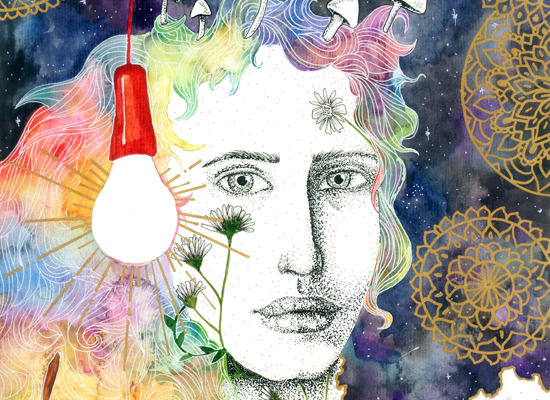Tatiana Faia

Tudo o que não tem remédio
Tinha tão pouca energia que pensei até em apanhar o autocarro para percorrer a ridícula distância de seiscentos metros entre o posto de saúde e a farmácia. A farmácia ocupa boa parte de um quarteirão e vende tudo e mais alguma coisa que ocupe o espectro de produtos e serviços entre os cosméticos, a morfina, e a impressão de fotografias. Enquanto esperava na fila, ela deu-me uma pancadinha no ombro. Por aqui? Estás bem? Explico-lhe que hoje sou uma personagem num filme de Woody Allen, nada está bem e tudo me aflige: uma gripe, um abcesso num dente, uma alergia em redor da boca que me anestesia o queixo. Paramos de falar porque me chamam para ir levantar a receita. Ela desaparece entre as sucessivas estantes de produtos enquanto eu espero e respiro de alívio. Penso de imediato em adoptar o meu subterfúgio típico, desaparecer sem me fazer notar. Entendo ser esta uma das manifestações mais naturais da minha misantropia, com a vantagem de ser ambígua o suficiente para não permitir que o visado alguma vez se sinta inteiramente ofendido. Mas assim que me aproximo da promessa de luz das escadas rolantes, ela emerge sinistramente do quarteirão dos comprimidos de alergias. O que é que se está a passar ao certo contigo, é o que ela quer saber. Exactamente como num filme de Woody Allen, isso eu só vou saber quando a acção chegar ao fim. Tenho dificuldade em explicar isto a pessoas pragmáticas como ela, mas o inteiro significado de certas coisas que tenho vivido tende a levar um longo tempo até acertar contas comigo e o facto de que ultimamente não tenho escrito nada só adensa essa falta de percepção. Claro que o que ela quer saber é o que eu tenho escrito ultimamente e onde tenho publicado e eu vai para um ano e meio que nada, nem uma linha, bem, há os poemas, mas eu nunca consegui arrumar isso muito bem na categoria de escrever, e, de resto, ninguém quer ouvir falar desses textos e é muito raro eu discuti-los com alguém. Enquanto trocamos inanidades eu noto que ela perdeu peso, noto que quando a conheci há dois anos num curso organizado noutro país, quando passámos duas semanas sentadas na mesma sala de aulas e a correr de teatro em teatro e de bar em bar e eu a vi brincar no mar como uma criança, ela não era bem esta pessoa aqui à minha frente. Ela deve estar agora na segunda metade dos vinte, vinte cinco ou vinte seis anos, e temos em comum o termos, entretanto mudado de óculos, noto que na Grécia ela falava inglês com sotaque americano e que aqui fala inglês com sotaque britânico, com um resíduo levíssimo de um sotaque que ninguém poderia associar ao italiano original, enquanto eu, um pouco numa corruptela de algo que Eça escreveu, faço sempre questão de que o meu sotaque se note, mesmo que as inflexões da prosódia do inglês britânico me sejam agora mais do que exaustivamente familiares. Mas o meu objectivo não é confundir-me com a paisagem ou erodir a minha própria estranheza ou tentar camuflar o facto do meu estatuto estrangeiro. Daqui a dez minutos, quando eu e ela nos sentarmos no café, o sotaque dela vai vir ao de cima uma vez e apenas uma vez, ao tentar pronunciar a complicada palavra xenophobia, um desafio prosódico à altura desta mulher despachada e inteligente por quem, não sentindo verdadeiramente simpatia, não consigo deixar de sentir empatia, e não é só por causa do que escreveu Sebald em Emigrantes, que os emigrantes naturalmente se aproximam uns dos outros. Isto para dizer que sigo alimentando as minhas próprias contradições, que depois de começarmos a conversar na farmácia eu não consegui não a convidar para beber um café, apesar da febre e do cansaço. Ela aceita imediatamente a minha proposta com entusiasmo, enquanto penso que é errado estar aqui a ter uma conversa, num dia em que não fui trabalhar por me sentir doente e esta jovem mulher que me é familiar sem nunca deixar de me ser estranha me explica que desde a última vez que falámos se casou, mas que o marido, entretanto voltou para Itália, para entregar a tese de doutoramento e, porque, claro, não conseguia arranjar trabalho aqui. Este café em St. Michael Street há-de ser o mesmo há quarenta anos. Recordo-me de que, ao contrário da amizade que quase de imediato me ligou a algumas pessoas naquele curso, nunca me consegui sentir verdadeiramente próxima dela, e penso que provavelmente nunca nos tornaremos amigas em parte por causa da catástrofe da minha personalidade, em parte porque há nela uma imaturidade profundamente simpática que adensa a minha impaciência, que me deixa ver um pouco do meu próprio desdém, e ao mesmo tempo, da minha resistência, na atenção com que discutimos a actual conjuntura política, a incerteza do futuro, até mesmo o reconhecimento de que há semanas que não me era tão fácil ter uma conversa inteligente com alguém, sem, no entanto, ser capaz de me iludir a mim própria e vir agora aqui apontar cobardemente, diariozinho, que nada disto é da ordem da amizade fraternal, perto do perfeito arquétipo platónico da coisa real, onde está bem vivo o tipo de diálogo pelo qual até a mais estúpida conjuntura política que tem animado este país no último ano se podia corrigir.
Tatiana Faia. Portugal (1986). Vive e trabalha em Oxford. É doutorada em Literatura Grega Antiga com uma tese sobre a Ilíada de Homero (Back Across the Barrier of the Teeth. Studies on Homeric Characters: The Iliad). É autora de dois livros de poemas: Lugano (2011) e teatro de rua (2013). Os seus contos, ensaios, poemas e traduções podem ser lidos, entre outros lugares, em A Sul de Nenhum Norte, Ítaca, Caderno: Enfermaria 6, Modo de Usar & Co., Colóquio/Letras e Relâmpago.